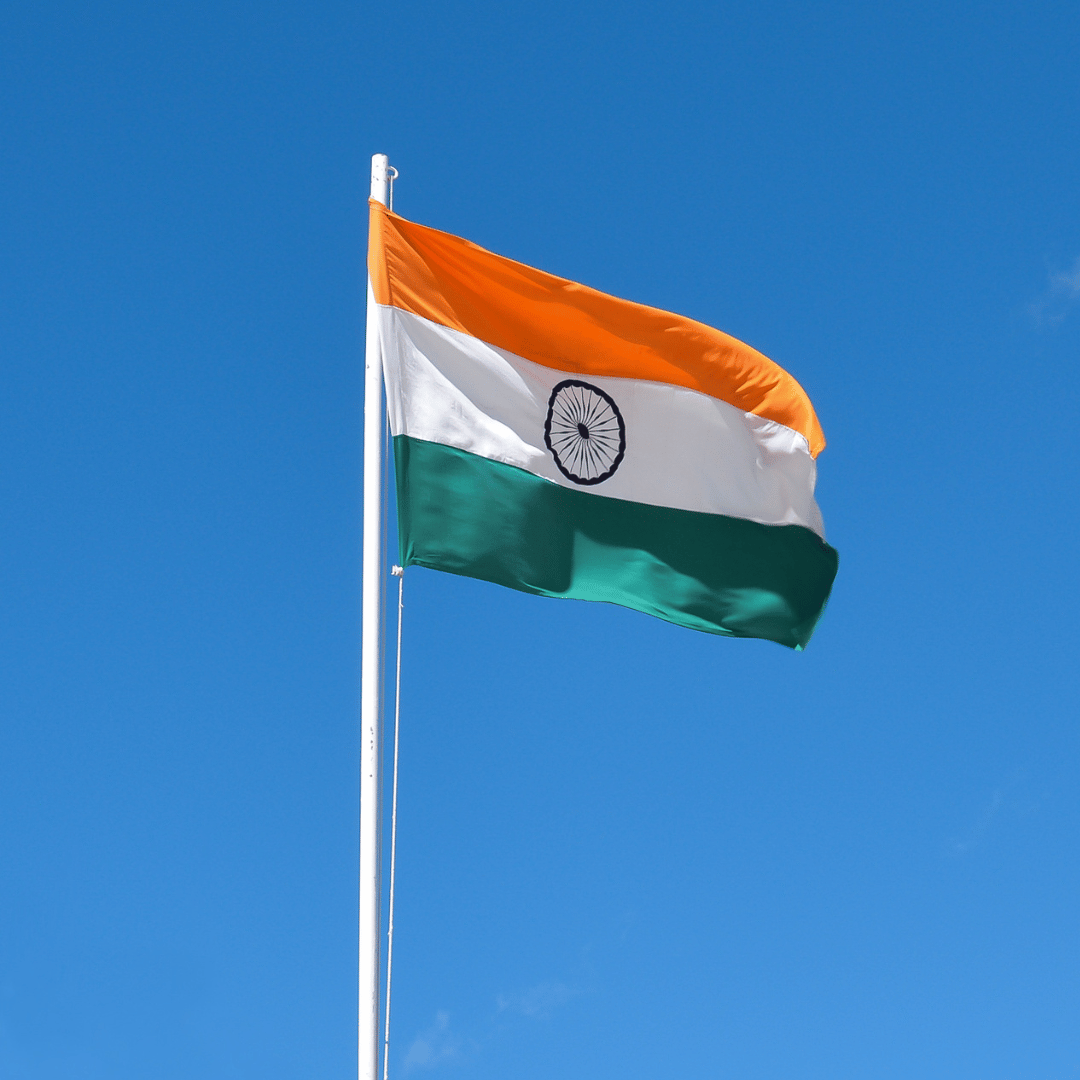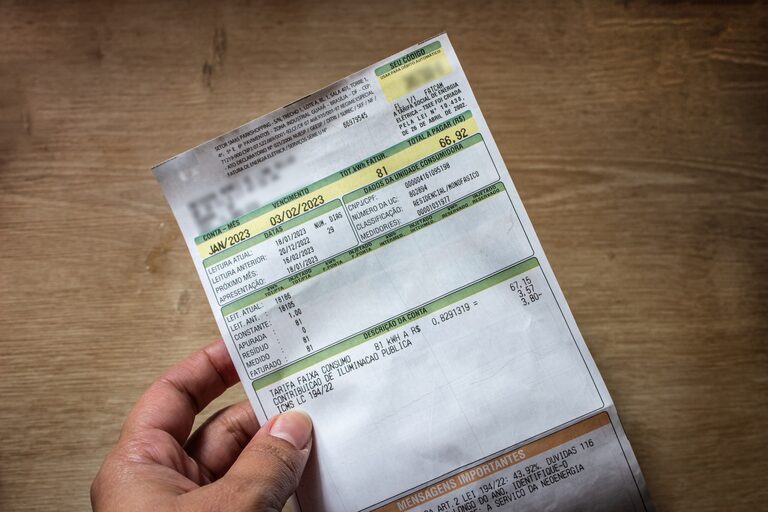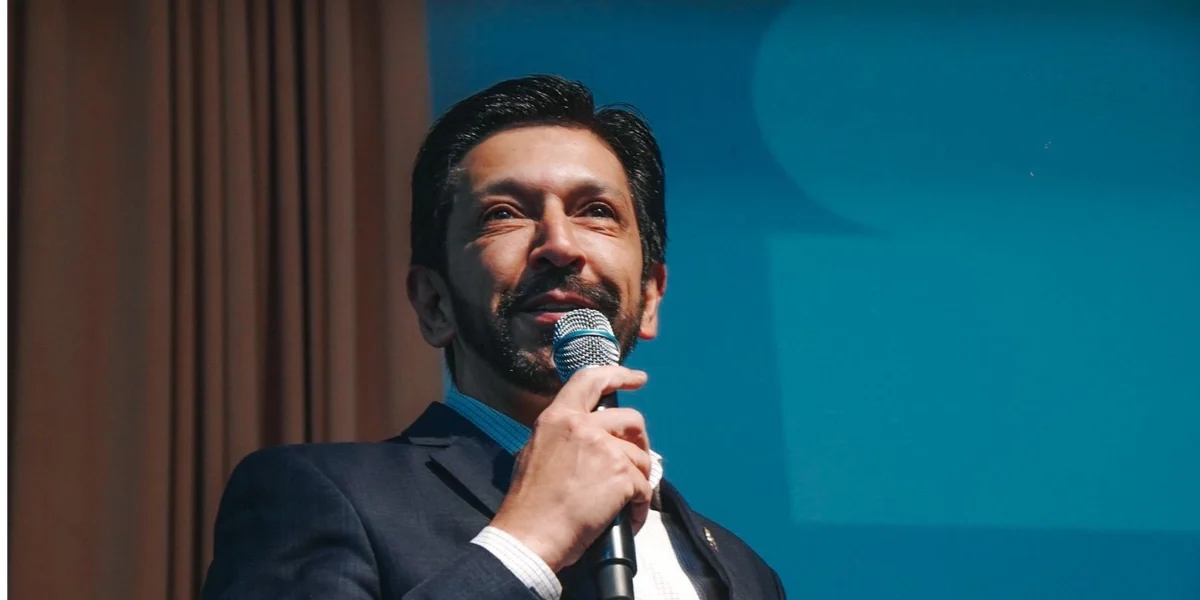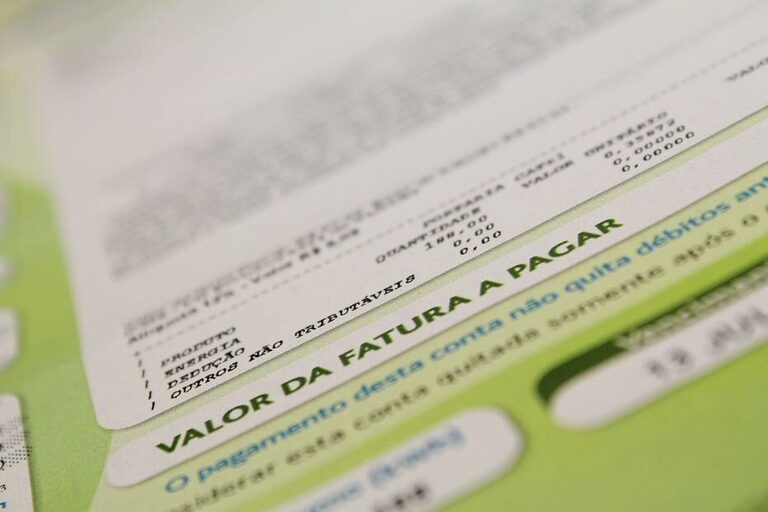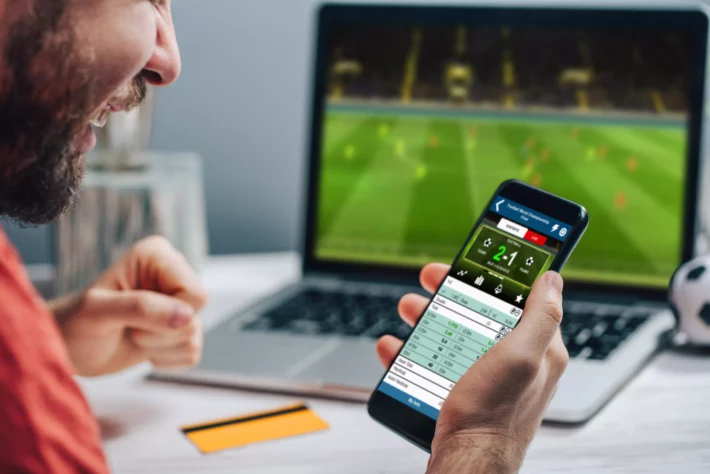Metas do arcabouço fiscal não permitem estabilizar endividamento diante da pesada conta de juros
Por Eduardo Laguna
Renovada a um preço cada vez mais caro, a dívida pública cresce como uma bola de neve que atinge em cheio a confiança dos investidores em relação ao Brasil. Nos últimos nove anos, seu valor mais do que dobrou de tamanho, passando de R$ 9 trilhões, o equivalente a 76,2% do Produto Interno Bruto (PIB), no último balanço fiscal do Banco Central (BC), cujos dados são relativos a fevereiro.
Pelas previsões de mercado, a dívida vai ultrapassar a marca de R$ 10 trilhões, a preços de hoje, até o fim do mandato atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Embora também inclua os governos estaduais e as prefeituras, 95% do endividamento público pertence ao governo federal.
O cumprimento do arcabouço fiscal, como aconteceu no ano passado, passou para o segundo plano aos olhos dos analistas. Primeiro, porque suas metas não permitem estabilizar a dívida diante da pesada conta de juros. Segundo, porque, com flexibilizações e exceções à regra, o governo segue, na prática, sem zerar o déficit das contas primárias – ou seja, não faz economia para pagar a dívida.
Gasto pesado
O resultado é uma necessidade de financiamento do setor público de 9% do PIB, porcentual previsto por economistas para este ano. Projeções de um relatório publicado pelo BTG Pactual em dezembro mostram que apenas a Bolívia precisa captar mais dinheiro no mercado para rolar a dívida.
Procurado pelo Broadcast, o Ministério da Fazenda frisou que as despesas com juros devem cair no médio prazo, levando a uma estabilização da dívida, como resultado dos esforços para a consolidação fiscal. Observou ainda que não há riscos relevantes em relação à solvência da dívida pública federal, sendo que os títulos públicos colocados em leilão têm demonstrado demanda consistente ao longo do tempo.
Para mitigar riscos de refinanciamento e garantir flexibilidade na gestão da dívida, o Tesouro mantém uma reserva de liquidez dedicada ao pagamento de obrigações, que fechou o ano passado em R$ 860 bilhões. “Em síntese, apesar do aumento no custo de curto prazo, o Tesouro dispõe dos instrumentos necessários para uma gestão eficiente dos riscos associados à dívida”, respondeu o ministério às questões enviadas pela reportagem.
Analistas consultados pelo Broadcast também descartam o risco de calote e concordam que os investidores ainda mostram interesse em financiar o Brasil. Há preocupação, contudo, com as consequências da escalada da dívida na inflação.
“O ponto de partida, com uma dívida elevada, a um custo elevado, cria sim uma trajetória de insustentabilidade fiscal e preocupa bastante. Caso não haja mudança de rumo da política fiscal, o ‘calote branco’ vem via inflação. Não tem atalho, a forma mais estrutural de reduzir o juro de equilíbrio passa por endereçar o desequilíbrio das contas públicas”, comenta Gabriel Leal de Barros, economista-chefe da ARX Investimentos e ex-diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI).
Ex-secretário do Tesouro e chefe de macroeconomia do ASA, Jeferson Bittencourt ressalta que a carga de juros paga pelo governo brasileiro é muito maior do que a de outros países porque a dívida pública é não apenas elevada como também cara. Um dos motivos é a demora no ajuste fiscal. “É a melhora lenta do resultado primário, junto com a desancoragem das expectativas de inflação, que faz a taxa de juros permanecer, na expectativa dos agentes, mais alta por mais tempo. Com isso, os juros nominais da dívida não caem rapidamente”, comenta o economista.
Conforme o especialista em contas públicas do Itaú Unibanco, Pedro Schneider, o Brasil, enquanto precisa de um superávit primário em torno de 2% do PIB para estancar a elevação da dívida, segue penando para chegar a um déficit zero. “O equilíbrio ainda está bem distante, o que contribui para a percepção de que existe um desafio fiscal sem uma solução clara de curto prazo.”
Para ele, o País não caminha a um cenário – pessimista e vivido no passado – no qual a dívida se torna impagável e só se resolve via hiperinflação. O problema, avalia, é que a rota trilhada leva a juros mais altos e inflação, o que compromete o crescimento econômico. “Não é que o Brasil está se tornando insolvente, é que estamos indo a um equilíbrio macroeconômico pior”, assinala Schneider.
Culpa do governo
Se o aperto na política monetária faz o governo pagar mais juros, não se espera que o Banco Central (BC), que persegue uma meta de inflação, e não de dívida, pare de subir a Selic. Mas sim que o governo, dentro do que está ao seu alcance, ajude o BC a controlar a inflação com o menor nível de juros possível. Esse é o caminho preconizado por economistas consultados pelo Broadcast, e que também vem sendo defendido publicamente pela equipe econômica, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Na avaliação do mercado, doses cavalares de estímulos fiscais, seguidas agora por medidas de crédito, comprometeram a eficácia da política monetária por ajudar a sustentar o consumo e pelo estresse causado nos investidores em relação à trajetória da dívida. Como consequência, o BC precisa subir mais os juros para segurar a inflação, tendo como efeito colateral um impacto pesado no serviço da dívida pública.
Fora isso, injeções de dinheiro na economia, na contramão da intenção da autoridade monetária de elevar os juros cobrados entre os bancos, obrigam o BC a enxugar a liquidez com mais operações compromissadas. A venda de títulos públicos com compromisso de recompra em data futura entra no cálculo da dívida.
Economistas do BTG Pactual, liderados pelo ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida, estimam que se 2% do Produto Interno Bruto (PIB) fosse reservado ao pagamento de juros – o chamado superávit primário – a dívida pública poderia se estabilizar em 90% em 2034. Na toada atual, em que o governo ainda não poupa um centavo para pagar juros, o mercado não vê a dívida parar de crescer nos próximos oito anos, chegando a passar de 93% em 2033.
“Quando faz o resultado primário, o governo, ao invés de se endividar quando a dívida vence, paga um pedaço da dívida com aquilo que poupou. Nesse caso, a política fiscal ajuda a gerar expectativas de sustentabilidade, o que faz a taxa de juros cair, assim como ajuda a abater a dívida ao longo do tempo”, comenta Jeferson Bittencourt, ex-secretário do Tesouro e, hoje, chefe de macroeconomia do ASA. “Sem uma dinâmica que leve a um superávit primário mais cedo em relação às expectativas, o crescimento da dívida vai ser muito acelerado”, acrescenta.
Com a bagagem de quem já teve um assento no Copom, na época em que foi diretor de Política Econômica do BC, o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita, sustentou, dois meses atrás, que o Brasil só terá juros em níveis civilizados se resgatar a regra do teto dos gastos, implementada no governo Michel Temer e substituída pelo atual arcabouço fiscal. Dentro do mesmo espírito de apertar o cinto para corrigir o desequilíbrio fiscal, a receita dada no sábado retrasado pelo ex-presidente do BC Armínio Fraga é congelar por seis anos o salário mínimo, ao qual estão vinculados os pisos previdenciários.
Após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o País vivia uma recessão de origem tanto política quanto fiscal, a regra que impedia aumentos das despesas públicas acima da inflação recolocou os pagamentos de juros, que estavam em 8,37% do PIB em 2015, para abaixo da média histórica em apenas três anos. Em 2018, os juros já custavam menos de 6% do PIB para o setor público.
A reedição do teto dos gastos é completamente descartada pelo governo atual, cuja equipe econômica considera a regra inviável a um orçamento engessado por gastos obrigatórios, que crescem em ritmo acelerado. E, levando em conta as expectativas de que o setor público seguirá gastando mais do que arrecada por pelo menos mais três anos – sem a perspectiva de novas medidas estruturais no curto prazo -, parece ainda haver um abismo entre a situação atual e a geração dos superávits primários necessários para equilibrar a dívida. O aperto fiscal para estancar a dívida passa de R$ 300 bilhões.
Apesar disso, uma sinalização clara de que, antes de afrouxar regras, haverá empenho político na agenda de ajuste fiscal – de modo a afastar receios sobre o governo entrar no “modo eleição” – seria um bom começo para resgatar a credibilidade da política fiscal e atenuar os prêmios de risco cobrados hoje pelo mercado.
“Ter juros menores passa por um governo que gasta menos também. Se você tem credibilidade, as coisas se retroalimentam. Com 10% de juro real, qualquer país do mundo vai ter problema fiscal, independentemente do seu crescimento. Só que a parte fiscal contribui negativamente a esse quadro, e é muito pela perda de credibilidade do arcabouço”, observa Pedro Schneider, especialista em contas públicas do Itaú Unibanco.
Conforme Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, a opção do Tesouro de lidar com a aversão a risco no mercado emitindo mais títulos pós-fixados ajudou a financiar o governo de modo eficiente. Porém, emenda, a estratégia tem um custo para o Banco Central, já que o maior retorno obtido por detentores desses papéis no ciclo de alta da Selic contribui para estimular a demanda agregada, prejudicando a política monetária.
“Os juros precisam ficar ainda mais elevados para compensar essa pressão. Ao mesmo tempo em que permite ao Tesouro ter um instrumento importante em momentos de desconfiança, também aprisiona o modelo de gestão da dívida a um tipo de papel que polui a gestão da política monetária, gerando custos fiscais diretos e altos”, comenta Salto, que já foi diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) e secretário da Fazenda do Estado de São Paulo.
“A gestão da dívida só vai melhorar, com alongamento do prazo e redução dos custos médios, quando avançarmos definitivamente na agenda de ajuste fiscal”, conclui o economista.